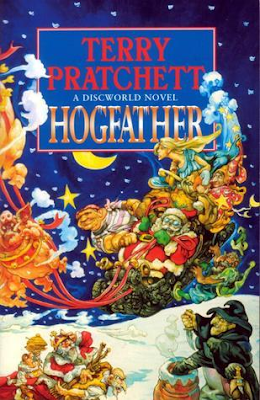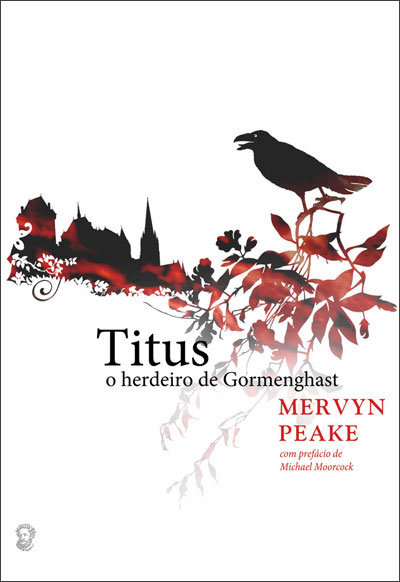Confesso que temi o pior. Aproveita bem o café, vão ser três horas e meia de espectáculo numa sala quentinha que convida ao soninho, disseram-me momentos antes da peça começar. Três horas e meia, no final de uma das minhas habitualmente longas semanas, com o corpo fatigado por uma noite no Super Bock Super Rock. Temi que iria lamentar a minha sanidade em ter vindo ao Teatro Experimental de Cascais assistir à representação de Peer Gynt. E a sala era, de facto, quentinha. Numa noite de verão, quente como um forno de cozedura em lume brando. Aposto que será uma sala acolhedora nas noites frias de inverno. Felizmente, a sala excessivamente quente e abafada foi o pior aspecto desta noite teatral.

Tudo o resto foi uma surpresa avassaladora. Pode parecer uma comparação exagerada, mas não consigo encontrar outra que transmita o quão surpreendente foi este espectáculo. Três horas e meia? Não se sentiram. O cenário austero, uma estrutura que deve ter provocado alguns dolorosos acidentes durante os ensaios, não distraía o olhar com elementos decorativos e convidava a mente do espectador a imaginar os espaços cénicos, direccionado pelo texto, actuações e uns deliciosos figurinos de Fernando Alvarez, entre o realismo clássico e a pura fantasia. Aliás, no registo fantástico dos trolls da montanha ou das lascivas criaturas da floresta, os figurinos estavam fabulosos.
A tradução do texto de Ibsen soube manter o ritmo da poesia e, trabalho certamente mais difícil, o sentido das rimas. Quando, por exemplo, o Bøyg diz
dá a volta, não é de um gesto físico que se trata, mas de toda a atitude de dar a volta aos problemas, e percebemos isso. O humor, as camadas de sentido, o ritmo poético foram preservados pela abordagem ao texto.

Foram três horas e meia, disse? Só se sentiram pelo calor na sala. O ritmo foi muito rápido, com um enorme dinamismo nas cenas. Quase frenético, nalguns momentos. Fiel à vertente musical desta peça clássica, houve vários momentos de canção e bailado, em complexas coreografias e com uma qualidade musical que surpreendeu. Os esforços de Natacha Tchitcherova e Ana Neves na coreografia e canto, respectivamente, traduziram-se em cenas encantadoras e de elevadíssima qualidade, especialmente levando em conta a grande quantidade de actores em palco a cantar e dançar ao vivo. Já na banda sonora Grieg foi o obrigatório ponto de partida, mas a peça não seguiu o caminho do bailado e buscou outras sonoridades. E até influências cinéfilas. Quando vemos actores a pular como macacos (e a fazê-lo mimetizando muito bem os movimentos dos símios) à volta de Peer enquanto se ouve o
Zarathrustra de Strauss, sabemos que a piscadela de olho a
2001 é intencional.
Nada disto funcionaria sem actores no topo do seu desempenho. O elenco incluiu veteranos, com uma Maria Vieira apaixonante como Aase, mãe de Peer, a oscilar na perfeição entre o humor e o trágico. Constança Rosa como Solveig traduz a iconografia da delicada e apaixonada donzela nórdica. Mas o palco, aliás, a noite, pertenceu a José Condessa a incorporar Peer Gynt. Leiam "pertenceu" com o mesmo sentido que os
l33tspeakers dizem
pwnd. Tudo gira à sua volta, em três horas e meia incansáveis, que começam com um registo energético e intencionalmente pueril mas terminam com amargura e possível redenção. Sempre imparável, Condessa levou-nos às aldeias norueguesas, aos desertos africanos, aos mares revoltos e ao regresso a um lar que se desvaneceu em busca da vida de que se fugiu. É a força e energia que imprime ao seu desempenho que, de facto, sustentam esta peça.
Resta sublinhar o trabalho dos restantes actores, que nos leva à grande ambição revelada nesta produção. Os veteranos ancoravam o trabalho de finalistas e alunos da Escola Profissional de Teatro de Cascais, mas o trabalho destes foi de excelência, A peça não funcionaria sem o melhor desempenho de todos. Um dos aspectos surpreendentes foi a qualidade do desempenho destes alunos numa peça que teve o seu quê de prova de aptidão final de curso profissional. Quanto à ambição, note-se a coragem do encenador Carlos Avilez a levar em diante esta representação com largas dezenas de actores em palco. Sublinho o
largas dezenas. Funcionou, encantou e espantou.
Ibsen caminhou entre o naturalismo, o fantástico e o proto-surrealismo nesta peça onde pegou em lendas do substrato de folclore noruguês, legando uma história intemporal que nos leva a questionar se todos nós, aqueles que mantém vivos os seus sonhos e não desistem de resistir aos sufocos têm algo de Peer Gynt dentro de si. Isso, a impossibilidade de retornos, a acção na inacção, aspectos focados num texto que têm uma forte componente de magia e fantasia clássica. Algo que esta representação também sublinha. Os antros do rei da montanha são um excelente exemplo, tal como o orientalismo das arábias imaginárias com odaliscas e dunas, ou, na mais magistral de cenas magistrais, a tempestade em alto mar onde o corpo dos actores e um vago fumo como efeito especial chegam para conjurar uma portentosa tormenta. Um tecnólogo como eu, apaixonado pelos efeitos das tecnologias e por
dead media, não pode deixar de reparar na referência à daguerreotipia como uma nova tecnologia capaz de fixar o espírito que ouvi algures na peça. Suspeito que o texto de Ibsen,
disponível no Projecto Gutenberg, se irá tornar leitura próxima.
Só não se perdoa o forno abafado que é a sala do TEC. Foi uma provação para a sala esgotada, e certamente que também para os actores. No restante, no que realmente importa,
Peer Gynt é uma encenação excepcional, ambiciosa, que agarra quem a vê, com um ritmo e dinamismo imparáveis. Está
em cena até dia nove de agosto no Teatro Experimental de Cascais. Diria que é imperdível para conhecedores de teatro (coisa que se deve notar que não sou). Para fãs do fantástico nas artes, digamos que é uma belíssima experiência ver o texto desenrolar-se aos nossos olhos pela voz e postura corporal dos actores.
Peer Gynt tem o seu quê de existencialismo, mas também nos leva para mundos feéricos povoados por sensuais leiteiras, trolls egocêntricos, implacáveis demónios e a voz incórporea do bøyg. Fantástico, no sentido clássico do termo. E não vão precisar de café, mas levem água que a sala é uma sauna que vos irá desidratar.
Imagens descaradamente surripiadas à página Facebook do Teatro Experimental de Cascais.