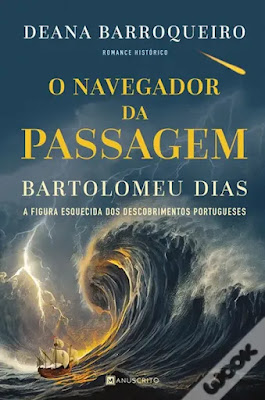Este ano, o Fórum Fantástico trouxe de volta o clássico painel das escolhas literárias do ano, com a Cristina Alves, João Campos, Rogério Ribeiro e eu a partilhar alguns dos livros que mais nos marcaram ao longo do ano.
Confesso, no meu caso, dado que este painel já não acontecia há várias edições do Fórum, abusei um pouco e levei leituras de outros anos. Fica aqui o registo das minhas escolhas.
Ficção Científica e Fantástico
A Memória e o Vazio, Lívia Borges
No futuro que este livro nos mostra, a humanidade encontra-se à beira de uma crise energética. O hidrogénio explorado no espaço de que o planeta depende para as suas necessidades está a esgotar-se, e a principal empresa de extração prepara uma missão arriscadas: sair do sistema solar e procurar extrair hidrogénio nas fronteiras de um buraco negro.
Romance de ficção científica sólido, dentro do campo da Hard SF, A Memória e o Vazio é uma excelente proposta no reduzido panorama da Ficção Científica portuguesa.
Proletkult, Wu Ming
Este livro curioso faz-nos regressar às utopias do futuro progressista e revolucionário comunista. Invoca as estéticas da ficção científica soviética, com o seu sonho de espalhar a igualdade e o progresso pelas estrelas (claro que, como bem sabemos, por detrás destes ideais estava um estado repressivo em tudo igual a outros tipos de regime totalitário). A invocação é feita de forma delicada. Apesar de ser a essência do livro, estas ideias estão num esparso polvilhar, porque a estrutura narrativa leva-nos à amargura daqueles que estão a ver os seus ideais de liberdade esmagados pela ortodoxia sedenta de poder.
Lapvona, Otessa Moshfegh
Há livros que são chocantes, que se esforçam ao máximo por chocar o leitor, exaltando o pior, exacerbando a violência, chegando ao grand guignol. E há livros que são implacáveis, que desorientam e atormentam o leitor da primeira à última página, sem cair em litanias da desgraça mas pela forma desoladora como nos apresentam a alma humana. Lapvona é claramente um desses, uma obra sem piedade para com os seus temas e personagens, desoladora, um choque de ar fétido que não nos deixa indiferentes.
Não há remissão na violência intelectual deste livro. Todos os personagens, sem exceção, agem de acordo com os seus piores instintos. Não hesitam perante os extremos de violência, são impiedosos em todos os momentos. A sordidez das suas vidas, das pobres às luxuosas, assenta numa tremenda ignorância supersticiosa, onde tudo justifica relações de poder baseadas na violência e exploração. Lapvona é uma fantasia negra, uma longa metáfora do pior que a alma humana nos reserva. Um livro fascinante na sua negritude, daqueles a que não conseguimos virar a cara apesar da implacabilidade com que nos trata.
O Soldado Sabino, Nuno Garcia
Se a história é deliciosamente macabra, o olhar do autor sobre a representação histórica é cuidado e claramente alicerçado em forte investigação. Mergulhamos mesmo no dia a dia dos soldados do CEP na Flandres, nos seus medos e divertimentos, tal com entramos nas barricadas republicanas de dia 4 de outubro, ou nas terras distantes de um Moçambique assolado por askaris. A reconstituição histórica é cuidada, formando um sólido cenário narrativo. Mas, do meu ponto de vista, por excelentes que sejam estes pontos, há um elemento ainda mais sedutor neste romance: um sentido de humor negro terrivelmente corrosivo. A sociopatia do personagem principal dá azo às mais hilariantes observações negras, num sublimar dos maus espíritos da alma humana. Quem aprecia humor negro irá ficar irremediavelmente atraído pelas constantes observações de um Sabino que, acima de tudo, é um ladino.
Children of Memory, Adrian Tchaikovsky
Esta série de Adrian Tchaikovsky leva-nos a olhar para os conceitos de inteligência a partir da ficção especulativa. No seu cerne, está a questão de como seriam inteligências não humanas, mas com traços evolutivos paralelos. A premissa desta Space Opera intrigante leva-nos a um futuro distante, em cujo passado a humanidade se começou a espalhar pelo espaço, levando a sua biotecnologia para terraformar planetas, plantando-lhes sementes de vida e guiando o seu crescimento. Um processo que tem um fim abrupto, quando um golpe provocado por uma facção terrestre que se opõem à expansão emite um vírus que desabilita os sistemas das naves e instalações orbitais, aniquilando as futuras colónias, aqueles que vivem em estações espaciais, e quase a vida na Terra.
The Long Way to a Small, Angry Planet, Becky Chambers
Uma lufada de ar fresquíssimo num estilo envelhecido, é a forma como melhor consigo descrever este livro. Se há género batido, usado e abusado em ficção científica, é a space opera. Junte-se a isso a também muito usada linha narrativa da personagem novata e algo ingénua que se junta a uma tripulação, e ao longo de aventuras e desventuras acaba por criar laços tão fortes que os tripulantes formam uma familia, e temos o argumento básico de uma imensidão de livros, filmes e séries. A receita é banalizada, e no entanto Chambers consegue fazer dela um livro imensamente delicioso.
O interessante está na forma refrescante como este livro consegue ser culturalmente atual e progressista, sem se deixar dominar pela necessidade de ser progressista.
The Singularity, Dino Buzzati
É uma leitura curta e rápida, simples de resumir. Um modesto professor universitário é desafiado a integrar um projeto misterioso, numa zona militar remota. Tão misterioso, que só quem trabalha diretamente nele ou os militares que guardam a zona sabem do que se trata. Os militares e responsáveis governamentais que aliciam o humilde professor desconhecem o projeto para o qual fazem o convite. A primeira parte do livro é uma piada kafkiana, com o académico a tentar perceber exatamente onde é que se meteu, sem que ninguém lhe consiga contar nada dada a profundidade do segredo.
Se estão a ver aqui uma visao ficcional ao estilo dos anos 60 da inteligência artifial assente em supercomputadores, não estão enganados. Buzzati segue as tropes esperadas, dos cientistas apostados em fazer nascer uma entidade inteligente cujo corpo se compõem de processadores e sensores, às especulações sobre se uma entidade que hoje chamaríamos de digital é capaz de sentir, sonhar, de ter consciência.
Parallel Botany, Leo Lionni
O tema do livro são as plantas efémeras, não pelos caprichos da natureza, mas por serem de uma natureza que está para lá da nossa realidade e tempo. Plantas fugazes, que só se deixam entrever por lentes especiais, quase impossíveis de estudar porque resistem à sua fixação no tempo. Vegetação esotérica, de estranhas proprieades, que se esfuma ao toque humano. Como vos disse, surrealismo poético transmutado em discurso pseudo-científico.
A acompanhar o delírio discreto do texto, ilustrações de perfeito surrealismo fora de contexto, retratando as fugazes plantas paralelas, ou os usos e costumes de tribos inexistentes em geografias irreais. Apesar da óbvia sátira, o livro nunca se descose, é sempre mantido o tom de onirismo em realismo científico. É sátira elegante e poética, não ironia rude.
O Meu Mundo Não É Deste Reino, Joao de Melo
Folhear as páginas deste romance deixou-me intrigado, prometia ser um voo de realismo mágico sobre a paisagem e gentes açoreanas. Arrisquei a sua leitura, e mergulhei num imaginário ao mesmo tempo luminoso e negro, um retrato com recortes de memória pessoal e etnográfica cruzado com uma certa visão de fantástico, temperado por sentimentos de isolamento geográfico no meio da paisagem do nordeste da ilha de S. Miguel.
A violência idílica da geografia transmite-se às relações de poder, aos desmandos daqueles que usam a religião e a lei para oprimir. Mas o tempo vai passando, a terra cresce, os homens saem e regressam, o progresso vai-se fazendo sentir, lento, mas inexorável. E, no meio de tudo, há mistérios e prodígios, mortos que visitam os vivos, aldeões analfabetos que oram em latim perfeito, animais que choram, estranhas neblinas, eclipes e pestilências, superstições moldadas por uma natureza amoral e violenta, que os dogmas religiosos não conseguem debelar.
Não-Ficção
Literary Theory For Robots, Dennis Tenen
Um livro que nos recorda a importãncia das ciências sociais para melhor se compreender a tecnologia. Mergulha a fundo na história da tecnologia e da literatura para nos levar a perceber as reais capacidades dos LLMs. E quando digo a fundo, vai a primórdios inesperados, como as regras combinatórias místicas de Llul e outros sábios medievais, os primeiros a estruturar sistemas de associação matemática de ideias para encontrar novos significados. Daqui segue para a interpretação da linguagem, e das ideias, com operações estatísticas que permitem automatizar processos de pensamento. Entra no campo dos primórdios da computação com o trabalho de Babbage e Lovelace, e faz um desvio intrigante para a padronização de ações, mostrando como a literatura floresceu com essas técnicas.
O livro não é alarmista em relação à IA Generativa, mas foge dos deslumbres que caracterizam muito do discurso sobre este tema. Mostra-nos que é uma tecnologia com imenso potencial, se entendida como ferramenta e não fim em si. E que talvez o seu maior risco seja a sua excessiva antropomorfização, que distorce a forma como a entendemos, bem como desresponsabiliza alguns dos maus usos.
Nuclear War, Annie Jacobsen
Classifico, sem qualquer dúvida, este livro como uma das leituras mais arrepiantes e aterrorizantes que fiz nos últimos tempos. Não é uma leitura simpática, e mostra-nos a cada novo capítulo como o impensável pode acontecer, como todos os sistemas de suposta salvaguarda têm tudo para não funcionar, como um acto irreflectido pode levar ao extermínio civilizacional
Toda a lógica do livro se baseia na teoria dos dominós, quando um equilíbrio instável é abalado por um acontecimento inesperado, ativando sistemas e protocolos, e se torna impossível travar a reação em cadeia. Assusta especialmente perceber que o tempo se mede em minutos, os decisores não têm tempo para decisões bem pensadas, uma guerra nuclear global duraria duas ou três horas e devastaria o planeta, com consequências que perdurariam por dezenas de milhar de anos.
Banda Desenhada e Comics
Ice Cream Man, W. Maxwell Prince, Martin Morazzo
É uma das séries de comics mais consistentes e interessantes da atualidade. O formato é episódoco, o fio condutor é o Homem que Vende Gelados, uma espécie de espírito maligno que não é especialmente interventivo, apenas testemunha as espirais de horror e decadência em que mergulham os personagens com que se cruza. A narrativa é arrojada e experimental, atreve-se a quebrar os moldes do storytelling normal dos comics, e o traço de linha clara realista sublinha a ironia de um horror profundo mas adocicado.
Lembranças de Emanon, Shinki Kajio, Kenji Tsuruta
Esta proposta editorial da Sendai, como sempre surpreendente, dstingue-se por dois aspetos. O trabalho gráfico cuidado do mangaka Kenji Tsuruta, e o onirismo de uma história de uma ficção científica subtil. Incerteza, lenda e fantástico cruzam-se nesta premissa simples, feita de memórias e encontros fortuitos, sempre em zonas de transiência (barcos, estações de comboio). O grafismo elegante sublinha este caráter, somos imediatamente atraídos pela personagem de Emanon, ao mesmo tempo frágil, forte e nostálgica, bem como percebemos o isolamento dos espaços liminares por onde passamos, aqueles espaços sobre os quais não pensamos, mas somos forçados, por passar tempo neles, a pensar em algo. Emanon é uma daquelas obras de poesia em ficção cientifica, que nos deslumbra por tudo aquilo que sentimos estar para lá do espaço narrativo.
Umbigo do Mundo volume-2, Carlos Silva, Penim Loureiro
Regresso ao mundo ficcional tecido por Carlos Silva e Penim Loureiro. Desta vez, embora mantenha o foco em momentos de ação, aprofundando a história que levou a esta distopia futurista. A ficção de Carlos Silva é de una curiosa distopia otimista, apropriando-se das estéticas de futuros apocalípticos mas sem cair em tons negros. A paleta de cores escolhida por Penim sublinha isso, mesmo nos momentos em que há um choque direto entre estéticas retro e apocalípticas (as cenas com um camião de cerveja dieselpunk cujo design se inspiranos anos 50, rodeados por selvagens germânicos que não ficaram nada fora de contexto naqueles filmes punk apocalípticos dos anos 80 é um excelente exemplo disso). No cerne disto, uma história sobre manipulação do tempo para garantir os privilégios de uma minoria à custa da civilização, e a rebelião da mulher-arma que foi o instrumento de manipulação, mas agora procura reverter o mal causado. Uma aventura de pura FC vinda do imaginário de Carlos Silva, acompanhada pelo traço de Penim, aquele que é um dos mais virtuosos praticante portugueses da arte do desenho em BD.
Neon, Rita Alfaiate
Com toda a certeza, este é o livro mais deslumbrante e visualmente avassaldor de BD portuguesa que li neste ano. O trabalho gráfico de Rita Alfaiate já surpeendia nos seus livros anteiores, num registo a preto e branco, mas neste é esplendoroso. A história é inquietante, parte das distopias de futurismo grimdark para nos falar de solidão, nostalgia e aquele imenso amor por um animal que só os amantes de cães verdadeiramente compreendem.
Umbra 4, Filipe Abranches
Como era de esperar, esta quarta edição da Umbra mantém o elevado padrão de qualidade literária e gráfica das anteriores. Desde o primeiro número desta revista que Filipe Abranches nos habituou a uma combinação rara: excelência gráfica e narrativa, aliada ao gosto pela ficção científica. Esse nível tem sido mantido ao longo das edições, sempre com excelentes propostas de banda desenhada potuguesa e internacional.
Zodiako segue outros caminhos, menos assustadores e mais etéreos, inserindo-se nas estéticas cósmicas e psicadélicas da BD dos anos 70. O intrigante, em Cortez, é a forma como sendo artista praticante no ambiente comercial brasileiro, manteve o seu traço numa estética muito mais próxima de uma certa BD europeia, entre Moebius e Druillet.
Tomie v2, Junji Ito
É um marco, para os leitores portugueses, a edição completa de Tomie traduzida para português pela Devir. A série do inigualável Junji Ito é um dos grandes clássicos do manga de horror, e sem dúvida bem conhecida pelos fãs quer da BD japonesa, quer do j-horror. Faltava esta tradução, garantindo uma maior acessibilidade de uma obra clássica e incontornável.